Resumo
O artigo aborda a prática do acompanhamento terapêutico em sua dimensão clínica-política. Pretende-se desenvolver uma reflexão a respeito da potência de se tomar a cidade como matéria da clínica a partir da prática do acompanhamento terapêutico. Para tanto, faremos uma incursão pelo modo a partir do qual se desenvolveu, na modernidade, a constituição dos discursos e medidas adotados com vistas a abarcar a experiência da loucura sob o estigma de doença mental. Em seguida, apresentaremos o contexto de revisionismo crítico acerca dos alicerces do saber médico-psiquiátrico, a partir da segunda metade do século XX, com o questionamento dos critérios utilizados para designar, delimitar e caracterizar os sujeitos alçados à categoria de alienados. O embasamento teórico está centrado em autores tais como Michel Foucault, Robert Castel e Franco Basaglia. O investimento nos espaços públicos faz com que esta estratégia de intervenção seja um importante ator no processo de Reforma psiquiátrica brasileira.
Palavras-chave:
acompanhamento terapêutico; cidade; práticas territoriais; reabilitação psicossocial; reforma psiquiátrica
Abstract
This article focus the therapeutical follow-up care practice in its clinical-political dimension. It is intended to develop a reflexion about the power of taking the city as a matter of the clinic from the practice of therapeutic follow-up. To achieve that, we shall make an incursion through the method from wich it has been developed, in modern times, the constitution of discourses and measures adopted in order to comprehend the experience of insanity under the stigma of a mental desease. Next, we present the context of critical revisionism about the foundations of medical-psychiatric knowledge, from the second half of the twentieth century, with the questioning of the criteria used to designate, delimit and characterize the subjects raised to the category of alienated. The theoretical basis is found in authors such as Michel Foucault, Robert Castel and Franco Basaglia. Investing in public spaces makes this intervention strategy to be an important agent in the Brazilian psychiatric reform process.
Keywords:
therapeutic follow-up care; city; territorial practices; psychosocial rehabilitation; psychiatric reform
Introdução
O presente artigo tem por objetivo desenvolver uma reflexão a respeito da potência de se tomar a cidade como matéria da clínica a partir da prática do acompanhamento terapêutico. Ao apostar no espaço público da polis urbana, o acompanhamento terapêutico reafirma um “valor de uso” para a cidade, em contraponto à fragmentação e dispersão que caracterizam a experiência humana contemporânea.
Tal fenômeno pode ser observado tanto a partir do individualismo que rege o modo como se dão as relações intersubjetivas na atualidade, bem como por meio do encolhimento do espaço público, então dominado pela lógica do capital financeiro, cujo consumismo é sua maior insígnia.
Inicialmente, situaremos o campo do acompanhamento terapêutico como dispositivo clínico presente no âmbito da rede de cuidados em saúde mental no contemporâneo. Para tanto, faremos uma incursão pelo modo a partir do qual se desenvolveu na modernidade a constituição de todo um campo epistemológico responsável pelos discursos e medidas adotados com vistas a abarcar a experiência da loucura, sob a égide do estigma de doença mental a ser identificada e segregada do convívio social.
Em seguida, apresentaremos o contexto de revisionismo crítico acerca dos alicerces do saber médico-psiquiátrico, a partir da segunda metade do século XX, com o questionamento dos critérios utilizados para designar, delimitar e caracterizar os sujeitos alçados à categoria de alienados e doentes mentais.
Nessa revisão, foram colocadas em ação medidas de intervenção voltadas para uma política que permitisse ao louco afirmar-se na sua singularidade, podendo exercê-la no laço social. No âmbito deste cenário histórico de mudanças, surgiram as propostas de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial, fundamentais para o desenvolvimento do dispositivo clínico do acompanhamento terapêutico.
Posteriormente, seguiremos com uma breve reflexão acerca do modo de organização dos grandes centros urbanos, especialmente a partir do século XX. Por fim, analisaremos questões que atravessam a prática do acompanhamento terapêutico tendo a cidade como pano de fundo, a título de apresentar de que modo a experiência de estar exposto às contingências do espaço público perfaz os fundamentos deste dispositivo clínico.
O acompanhamento terapêutico como dispositivo clínico inserido no âmbito da rede de cuidados em saúde mental
História da loucura na Idade Clássica, livro seminal de Michel Foucault (1978), constitui uma referência indispensável para uma análise crítica acerca do panorama do campo de trabalho voltado para a saúde mental no contemporâneo. Nesta obra, Foucault elege a razão como objeto de análise privilegiado.
O autor desenvolve uma reflexão acerca das categorias do saber e dos dispositivos de poder, responsáveis pelo surgimento da noção de homem eminentemente racional, forjada a partir do que designou por Idade Clássica – expressão tomada de empréstimo do campo dos historiadores da literatura – circunscrita aos séculos XVII e XVIII, com ressonâncias até os dias de hoje.
O projeto teórico de Foucault nesta obra foi, portanto, dissertar sobre as operações através das quais se desenvolveu a diferença entre razão e desrazão nos moldes da tradição europeia ocidental.
Dentro desta perspectiva, Foucault (1978) situa historicamente a Idade Clássica, caracterizando-a a partir de dois aspectos. O primeiro diz respeito à construção dos hospitais gerais, constituídos como espaços de exclusão social; espaços deste tipo foram estabelecidos pela figura do “Rei” a fim de delimitar e segregar do convívio social todo o cortejo daqueles que passaram a ser designados por marginais, incluindo-se neste grupo os descrentes, os ditos vagabundos e blasfemadores, bem como aqueles que são tidos como loucos.
O segundo aspecto que compõe aquilo que Foucault designa por Idade Clássica refere-se à filosofia de René Descartes, filósofo que visou superar o ceticismo de sua época pelo enunciado “Penso, logo existo”, determinante para a emergência da tradição racionalista moderna (DESCARTES, 2011). Fundada com base no argumento do cogito, esta proposição alça o pensamento como critério da existência, tendo como padrão de discurso o modelo cientificista que começa a despontar.
De acordo com Foucault (1978), é com base neste duplo movimento que a Idade Clássica inaugura o binômio razão/desrazão, circunscrevendo, com isso, a experiência da loucura no polo da não assunção do pensamento.
Ora, se o homem somente pode comprovar a sua existência pela proposição irrefutável do seu pensamento – o “Eu penso” como imperativo de certeza -, tal como explicitado no argumento do cogito cartesiano, então aqueles que passam a ser tidos como desprovidos da faculdade do pensar – isto é, da capacidade de serem razoáveis ou racionais – devem, com isso, passar ao mundo da exclusão e ser isolados do convívio público, confinados nas grandes casas de internamento, sem que haja nesta operação quaisquer medidas terapêuticas.
Contudo, Foucault (1978) assinala que no final do século XIX a loucura sofre uma nova intervenção, mudando de posição uma vez que o seu domínio passa a ser o da psiquiatria, ou seja, doravante o “louco” é objeto de predição, violência e controle pelo campo da medicina. Com isso o autor aponta os mecanismos a partir dos quais foi deflagrada uma categorização da experiência da loucura como doença mental, passível, portanto, de ser tratada.
O processo de transformação do louco em objeto de análise e discurso científico implicou, dentre outros fatores, a escalada da medicalização do dito doente. A doença mental é, portanto, uma produção histórico-social e não uma positividade científica de origem, como uma visada apressada pode parecer supor.
Assim, a questão central em torno da qual Foucault se debruça diz respeito à elucidação acerca das contingências sócio-históricas, bem como dos procedimentos epistemológicos, responsáveis pela transformação da loucura na categoria de doença mental. É daí que Foucault (1978) erige a hipótese de que será preciso retirar o louco do lugar de exclusão social ao qual fora relegado, para que possa exercer a sua liberdade.
É neste contexto de análise crítica a respeito do lugar social atribuído à loucura que eclode em diversas partes do mundo uma série de movimentos de luta por reformulações no âmbito dos saberes e práticas psiquiátricas, principalmente a partir da segunda metade do século XX, em função do pós-guerra.
O movimento da Psiquiatria Democrática italiana, colocado em ação no final da década de 60, pode ser citado, dentre outros, como um importante passo na busca por formas alternativas à exclusão da experiência da loucura, característica do modelo psiquiátrico tradicional baseado na institucionalização do “louco” por meio do seu confinamento nos asilos, violentado e privado do convívio social.
Liderado por Franco Basaglia, o projeto de “desinstitucionalização” se caracterizou por um confronto direto com os pressupostos do saber psiquiátrico, em defesa de uma ruptura radical com este saber. Nas palavras do autor, a relação estabelecida pelos enfermeiros e médicos junto aos pacientes é marcada pela violência, cuja agressividade por parte dos primeiros desumaniza e objetifica o dito “louco”:
O diagnóstico assume o valor de um rótulo que codifica uma passividade dada por irreversível. No instante em que esta é considerada em termos de doença confirma-se a necessidade da sua separação e exclusão, sem que se ponha em questão o significado discriminatório do diagnóstico. Desta maneira, a exclusão do doente do mundo dos sãos libera a sociedade dos seus elementos críticos de uma só vez confirmando e sancionando a validade do conceito de norma que a sociedade estabeleceu. A partir dessas premissas a relação entre o doente e aquele que toma conta dele é forçosamente objetual, na medida em que a comunicação entre ambos ocorre somente através do filtro de uma definição, de um rótulo que não deixa qualquer possibilidade de apelo (BASAGLIA, 2001, p. 109).
Basaglia (2001) denuncia as instituições asilares caracterizando-as como “instituições da violência”, defendendo como único meio de combate à lógica manicomial o estabelecimento de relações que se deem necessariamente fora do domínio institucional.
Neste sentido, o projeto italiano de “desinstitucionalização” propôs uma efetiva dissolução das noções de saúde/doença, normal/patológico, a ponto de desfazer e ressignificar – não somente na teoria, mas especialmente na prática – as relações hierárquicas estabelecidas entre os profissionais “psi” e os pacientes “psiquiátricos”.
Há, neste caso, uma luta pela desmontagem completa do aparato manicomial, propondo-se a sua substituição por centros de referência. O foco recai na distribuição destes centros em áreas geográficas específicas, com o propósito de criar estratégias de circulação da experiência da loucura pelos espaços públicos, que passam a ser tidos como importantes territórios de referência para o dito louco.
Cabe destacar que a noção de “território”, cara ao pensamento de Basaglia (2001), não se limita apenas à dimensão geográfica dos espaços propriamente ditos, mas diz respeito também aos níveis simbólico e cultural, densamente presentes dentro do projeto da “desinstitucionalização” proposto pelo psiquiatra italiano.
Com isso, o fato de a loucura passar a circular fora dos limites institucionais, estende a concepção do cuidado e do tratamento ao espaço público da polis – no qual os diversos atores sociais são convocados à discussão e à participação -, e as relações econômicas, políticas e sociais inevitavelmente entram em cena.
Importante compreender, à luz do que esclarece Rotelli (2000), que o imperativo de desinstitucionalizar não deve ser reduzido a uma desospitalização, uma vez que envolve uma transformação mais profunda nos alicerces teórico-pragmáticos da psiquiatria oitocentista, cujo propósito, tal como visto, limitava-se a classificar e segregar tudo o que manifestava diferença com relação aos ideais de ordem urbana, a fim de controlar os desvios extirpando-os do convívio social mais amplo.
Deste modo, o autor sintetiza a experiência da reforma italiana, realizada principalmente na cidade de Trieste, condensando-a sob a forma da expressão “empresa social”, a qual traduz da seguinte maneira:
Denominamos de empresa social aquela que ‘faz viver’ o social, o que é distinto, portanto, da situação precedente, na qual o social era expropriado de suas contradições, delegado aos psiquiatras, recluso nos muros do manicômio. Empresa social é o processo de desinstitucionalização que, como temos dito tantas vezes, nada tem a ver com a palavra desospitalização (ROTELLI, 2000, p. 301).
De acordo com Pitta (1996), dentro deste contexto no qual eclodem diversos movimentos antipsiquiátricos como alternativa à lógica manicomial, surge no Brasil o Projeto de Reabilitação Psicossocial, configurando-se como parte fundamental do processo de Reforma psiquiátrica brasileira, profundamente influenciada pela experiência italiana.
O foco, neste caso, recai na luta pela contratualidade social e afetiva estabelecida junto a indivíduos que são frequentemente negligenciados nos seus direitos de cidadãos. Neste sentido, para uma reabilitação psicossocial efetiva faz-se necessária a criação de “práticas territoriais” capazes de garantir o fortalecimento dos laços sociais e afetivos com vistas a desobstruir o acesso à via pública, garantindo a promoção de saúde e qualidade de vida a este grupo específico.
Segundo Saraceno (1996), o Projeto de Reabilitação Psicossocial tem como objetivo principal a garantia da plena cidadania a estes sujeitos, o que implica a construção de uma estratégia global de assistência. Pensar em termos de estratégia global significa levar em consideração a necessidade – ética, diga-se de passagem – de efetivamente estabelecer um contrato com estes indivíduos, enxergando-os fora dos estereótipos de doentes mentais, no âmbito de três grandes cenários que permeiam a existência, quais sejam: o habitat, a rede social e o trabalho.
Tem-se aqui a compreensão desses cenários como importantes “espaços de troca”. Torna-se, neste contexto, menos importante saber quais serão os dispositivos técnicos colocados em operação – sejam estes de ordem artística, cultural, política ou econômica – do que o modo como se responde à exigência ética de garantir a estes sujeitos o acesso à cidade, facultando-lhes os meios para exercer nela e a partir dela as suas potencialidades.
Trata-se, portanto, de criar estratégias que estejam de fato reabilitando-os psicossocialmente, tanto no nível afetivo – no campo das relações intersubjetivas junto aos familiares, profissionais da saúde e pessoas do convívio público mais amplo – como no macropolítico, no caso do modo como a rede de cuidados e serviços está sendo pensada e operacionalizada.
É neste sentido que Saraceno (1996) defende que reabilitar não deve ser confundido com entreter, uma vez que em sua raiz latina a palavra “entreter” pode denotar tanto “diversão” como “manter dentro” – o que é, tal como visto, tudo aquilo que o processo de reabilitação não quer – apontando neste caso para o perigo de se incorrer no “erro” de reforçar a doença ao invés de promover a saúde, exportando a cultura das práticas psiquiátricas tradicionais para o lado de fora das instituições.
Portanto, não se pode perder de vista o fato de que a contratualidade junto aos principais interessados, ou seja, aqueles para quem as políticas de reabilitação se destinam, deve ser mantida como o principal balizador dos meios colocados em ação.
O acompanhamento terapêutico desponta no âmbito deste cenário, configurando-se como dispositivo clínico que atua como um importante vetor de transformação sociopolítica na luta pela construção de uma rede de serviços substitutivos à lógica manicomial. Está inserido, portanto, dentro desta proposta mais ampla de criação de alternativas à internação e ao confinamento do dito “louco” nas instituições psiquiátricas.
Em seus fundamentos, o AT é uma modalidade de tratamento clínico voltado para a reabilitação psicossocial de pessoas acometidas por intenso sofrimento psíquico. Por este motivo, no princípio esteve majoritariamente associado aos casos de pacientes graves da saúde mental, ainda que este cenário esteja em permanente mudança, uma vez que o público que busca o serviço hoje é bastante heterogêneo, com aumento progressivo na demanda de trabalho neste campo.
De acordo com Sereno (1996), com o decorrer do tempo tal demanda se estendeu a casos de usuários de álcool e outras drogas, portadores de deficiência físicas e mentais, idosos, dentre outros.
Mas, afinal, que clínica é essa? Ou, dito de outro modo, a que serve esta modalidade de tratamento clínico? Sem dúvida, esta questão não cessa de se colocar aos que estão envolvidos no ofício desta empreitada, bem como àqueles que se propõem a pensar sobre este dispositivo terapêutico, exercendo-o ou não.
De saída, pode-se começar a responder a estas perguntas com a constatação de que o acompanhante terapêutico é convocado a participar de diversos momentos da vida pessoal daqueles os quais acompanha – em meio às refeições familiares, por exemplo -, bem como de situações corriqueiras próprias ao cotidiano urbano, tais como idas a agências bancárias, supermercados, consultas médicas, dentre inúmeras outras possibilidades.
Depreende-se, então, que podemos afirmar a prática do AT como uma clínica em ato, que faz do cotidiano de vida dos sujeitos acompanhados a matéria mesma de sua intervenção.
Em termos de referências históricas, sabe-se que o AT foi inspirado nas comunidades terapêuticas inglesas e francesas do pós-guerra.
De acordo com Reis Neto (1995), este dispositivo teve seu início na passagem das décadas de 60/70, tanto na Argentina como no Brasil. Ainda de acordo com o autor, com o tempo os “auxiliares/atendentes” psiquiátricos, ou mesmo os “amigos qualificados” – como eram costumeiramente denominados em Buenos Aires e em São Paulo -, passaram a acompanhar os pacientes não apenas dentro da instituição, mas também fora dos limites institucionais.
Com isso, esta prática ganhou a rua como lócus privilegiado de atuação, o que levou a uma mudança de nomenclatura, donde o surgimento da designação “acompanhantes terapêuticos”, termo usado para acentuar a dimensão clínica desta função.
Portanto, a mudança de nomenclatura sinaliza uma alteração no modus operandis desta prática, cuja demanda deixa de ser restrita apenas ao evitamento da internação, passando a se aplicar a diversas outras situações.
No cenário brasileiro, o AT adquiriu expressão no âmbito do movimento de Reforma psiquiátrica, iniciado na década de 60, mas interrompido pelo cenário obscuro da ditadura militar, que se prolongou por vinte anos.
Com isso, o AT só ganhou força no final da década de 70 e início da década de 80, em função da “abertura política” impulsionada pela derrocada do militarismo, com o subsequente processo de redemocratização colocado em ação no país. Este processo fez com que o AT despontasse como estratégia clínica de suma importância, configurando-se como um dispositivo potente frente aos imperativos impostos pelo já citado Projeto de Reabilitação Psicossocial.
Como vimos, o desenvolvimento do AT como dispositivo clínico-político voltado especialmente para a área da saúde mental configura-se como um campo de trabalho profícuo, capaz de enfrentar os desafios e os impasses colocados por este domínio. Vejamos, então, ainda mais de perto, quais as especificidades desta clínica que se desenvolve no concreto da cidade, aberta, portanto, à porosidade dos espaços públicos.
Perspectivas terapêuticas no concreto da cidade: por uma clínica na polis urbana
Nos últimos anos, muitos autores têm se debruçado sobre o tema do AT (PALOMBINI, 2007; CHAUI-BERLINCK, 2012; GONÇALVES; BARROS, 2013). Ainda que o material bibliográfico acerca deste assunto esteja em razão progressiva de crescimento, atualmente existem relativamente poucas referências, se compararmos ao aumento do número de profissionais que está aceitando o desafio de trabalhar como acompanhantes terapêuticos.
Embora as abordagens teóricas produzidas no campo de pesquisa voltado para pensar a prática do AT possuam enfoques diversificados, há um ponto de interseção que as atravessa, qual seja: pensar a cidade como corpo coletivo que se agrega ao par acompanhante-acompanhado, formando uma tríade a partir da qual uma terapêutica se desenvolve. E é este aspecto, intensamente presente na clínica do AT, que analisaremos a seguir. Mas, afinal, de que cidade estamos falando?
Georg Simmel (1973) discorre sobre as relações entre o espaço urbano e os modos de subjetivação na modernidade, em texto que se tornaria um clássico: “A metrópole e a vida mental”. Remontando ao Iluminismo do século XVIII, o autor aponta para o fato de que os ideais de liberdade e individualidade foram gestados em torno de uma hegemonia da razão, responsável pela necessária especialização nos meios de trabalho em função das mudanças nas formas de produção, ocasionadas principalmente pela Revolução Industrial.
Ao traçar uma relação dialética entre o “individual” e o que designou por “superindividual”, Simmel (1973) apresenta os contrastes entre a vida no campo, própria à lógica rural, e a vida nas metrópoles, organizada em torno da produção em larga escala sitiada nas fábricas.
Em linhas gerais, a tese desenvolvida pelo autor é a de que para adaptar-se à vida nas grandes cidades, o indivíduo torna-se obrigado a desenvolver uma série de respostas aos estímulos externos a fim de acomodá-los à sua interioridade. Segundo esta tese, a intensificação destes estímulos leva a um inevitável desgaste nervoso na psique dos sujeitos.
A resultante de todo este processo, marcado por um excesso de estímulos externos impondo-se à interioridade dos indivíduos sob a forma de choques, é o contexto generalizado de indiferença no âmbito das sociabilidades. É neste sentido que o autor situa a “atitude blasé” como o fenômeno psíquico por excelência vivido nas grandes cidades, fenômeno este caracterizado basicamente por uma atitude mental de reserva de uns para com os outros, a fim de dissimular os sentimentos de aversão, estranheza e repulsa mútuos, amplamente disseminados.
O autor norte-americano Louis Wirth (1973), contemporâneo de Simmel, também desenvolve importantes considerações acerca do cotidiano daqueles que vivem nas grandes cidades.
De acordo com o autor, apesar de o cotidiano de vida urbana obrigar os sujeitos a estarem em contato uns com os outros com maior frequência em comparação com a vida no campo, verifica-se, neste caso, não um maior aprofundamento das relações, e sim, pelo contrário, um contexto de superficialidade nas trocas intersubjetivas, o que gera frustrações por toda parte e a disseminação de um “temperamento esquizoide”.
Seguindo a perspectiva das análises desenvolvidas por Simmel e Wirth a respeito das transformações nos modos de organização social em fins do século XIX e início do século XX, Richard Sennett (1997) realiza uma reflexão sociológica acerca dos avanços no planejamento dos espaços públicos a partir deste período.
Assim, o cenário espacial contemporâneo é descrito pelo autor como desdobramento da cena moderna, no qual há um enfraquecimento cada vez maior dos laços que outrora regiam o intercâmbio de experiências no coletivo, configurando a escalada de uma “geografia urbana fragmentada e descontínua”.
Sennett (1997) aponta para uma forma específica de organização social em torno das metrópoles, favorecendo uma circulação dos corpos pouco engajada com a diversidade, isto é, com os jogos de força instaurados nos espaços públicos.
O território da cidade, cujo propósito deveria residir no encontro com a variabilidade de experiências, implícita na origem da noção de polis, é cada vez mais obstruído por uma existência marcada principalmente pela dispersão, pelo individualismo e pelo isolamento, da qual o automóvel é o signo por excelência.
Como desdobramento desse cenário, o autor assinala um estado geral de apatia dos sentidos no qual se pode observar uma economia dos gestos e percepções nos espaços públicos, limitando a nossa capacidade de estabelecer vínculos.
Em meio à “selva” de concreto – caracterizada pelo grande número de edifícios, cada vez mais altos e imponentes – a vida nas grandes metrópoles transforma-se vertiginosamente, resultando em um estado de crescente desconexão com o outro, tornado um estranho a ser evitado, o mesmo ocorrendo com os espaços coletivos, esvaziados em seu potencial de troca intersubjetiva.
Hoje em dia ordem significa falta de contato. […] A massa de corpos que antes aglomerava-se nos centros urbanos hoje está dispersa, reunindo-se em pólos comercias, mais preocupada em consumir do que com qualquer outro propósito mais complexo, político ou comunitário. Atualmente, em meio à multidão a presença de outros seres humanos é ameaçadora (SENNETT, 1997, p. 18-19).
Configuradas como “grandes corredores”, as vias expressas ocupam, cada vez mais, espaços que outrora eram destinados ao convívio coletivo.
Segundo o autor, a pouca vinculação com o que está ao nosso redor está diretamente relacionada ao surgimento das metrópoles a partir do final do século XIX, conformando um movimento de corpos paradoxalmente livres e desinvestidos, isto é, aparentemente autônomos com relação aos percursos a serem trilhados, mas ao mesmo tempo reféns de uma incapacidade de lidar com as presenças alheias, ato contínuo até os dias de hoje.
Mas de que modo essas reflexões relacionam-se ao campo do AT? Ou ainda: como as noções desenvolvidas por estes autores, a fim de caracterizar a conformação das cidades, reverberam na prática do AT? Se as grandes cidades consistem em espaços públicos cada vez mais esvaziados em sua dimensão coletiva de troca intersubjetiva, o que nos autoriza a advogar para este dispositivo clínico a capacidade de potencializar estes espaços, dotando-os de outros sentidos, que não os de ordem capitalística econômica?
Neste ponto, nos permitiremos abrir um breve parêntese, para trazermos à baila duas cenas ocorridas no âmbito de um AT realizado junto a um jovem de aproximadamente 20 anos, ao qual denominaremos D. Para os desígnios aqui pretendidos, basta assinalar que D. apresenta dificuldades motoras e possui, do ponto de vista nosológico, um leve retardo mental.
As situações narradas visam ilustrar o modo como a discussão acerca das cidades, feita acima, se presentifica no campo do AT. Com isso, pretendemos também chamar a atenção para o quanto esta relação entre clínica e cidade não é simples, sendo, pelo contrário, cercada por ambivalências e tensões.
Primeira cena: caminhávamos por uma via e em determinado momento deparamos com uma senhora, que vinha no sentido contrário de nosso percurso.
Não se contendo em sua indiscrição, a senhora pôs-se a olhar insistentemente para D., especialmente em direção às botas usadas para auxiliá-lo em sua marcha. Constrangido pela cena, voltei meus olhos para D. e verifiquei que tinha em seu semblante uma expressão de desconforto, tentando não encarar a senhora, mas visivelmente atingido por aquele olhar intrusivo. Súbito, D. tropeça e cai bruscamente no chão. Cabe assinalar que esta foi a primeira e única vez que D. caiu durante uma saída de AT.
Segunda cena: atrasados para assistir a um filme, encontramos o saguão da bilheteria do cinema lotado de pessoas, muitas das quais perfiladas para a compra de ingressos, o que nos desanimou profundamente, pois estávamos sem os bilhetes de entrada.
Naquela mesma semana havia conversado com o pai de D., ocasião em que me alertou a respeito da dificuldade do filho em aceitar a própria condição, frequentemente referindo-se a si mesmo, de um modo pejorativo, como “deficiente físico”. Esta informação, somada ao fato de estar começando o trabalho de AT com D., deixou-me atônito, sem saber como agir diante do dilema de sugerir ou não nos encaminharmos para a fila destinada a “pessoas portadoras de necessidades especiais”, que estava bem mais vazia.
Enquanto pensava, D. repetia: “não vai dar pra ver, não vai dar tempo”. De repente, foi ele mesmo quem dissipou minhas dúvidas, indagando de forma enfática: “por que não vamos para a fila exclusiva?”.
As cenas descritas são emblemáticas do modo como os espaços públicos desempenham na clínica do AT diversas possibilidades de atuação.
A primeira cena apresentada aponta o quanto o contato com a diferença pode intensificar atitudes discriminatórias, marcadas pela estranheza e repulsa. Afinal, o olhar vidrado da senhora em direção a D. era preenchido de preconceito, denotando irresoluta aversão, o que nos leva a pensar, sobretudo, que teve tamanha força a ponto de fazê-lo tombar ao chão.
Sobre este aspecto, não é demais acrescentar que, no momento da queda de D., a atitude de sua observadora passou longe de qualquer menção de ajudá-lo; nem ao menos se dignou a deter-se na cena, ocupando-se de dali retirar-se o mais rápido que pôde.
A segunda cena aponta outro aspecto a ser analisado. Neste caso, a “troca de fila” efetuada por D., no momento da compra de ingressos para o filme, denota o quanto o espaço público engendrou a possibilidade de ele se afirmar em sua diferença, bem como o quanto a presença do acompanhante, neste contexto, fez-se importante. Afinal, estar junto a um outro, testemunho desta operação de assunção da própria condição, foi fundamental para que D. pudesse assumir-se no espaço coletivo.
A partir das cenas analisadas, podemos erigir a hipótese de que tomar a cidade como matéria do AT não consiste em uma tarefa simples, pois se constitui como operação irredutível a um único sistema de conceituação. Isso ocorre porque, em suas itinerâncias, acompanhante e sujeito acompanhado terão que lidar o tempo todo com os desafios impostos por uma série de contingências, tal como ilustrado nos exemplos acima.
Ao mesmo tempo em que a cena pública coloca a dupla frente a situações difíceis – posto que, por vezes, é hostil e atualiza o preconceito e a discriminação, fazendo das incursões árduos percursos -, também enseja a oportunidade para que as diferenças possam criar espaços de expressão no âmbito das trocas intersubjetivas.
Deste modo, o campo do AT finca suas raízes nos espaços coletivos, trabalhando a partir da aposta de que somente ao colocarmos em ato as diferenças que nos constituem, poderemos construir uma sociedade de fato inclusiva. Portanto, é precisamente dentro deste contexto reflexivo, no qual há a premência de uma reinvenção do “valor de uso” da cidade, que o trabalho de AT se insere.
A análise das cenas narradas nos remete às reflexões de Palombini (2007). A autora situa como uma das principais especificidades da prática do AT o fato de convocar acompanhante e sujeito acompanhado a habitar o cotidiano citadino.
Do seu ponto de vista, ocupar o espaço público significa garantir o intercâmbio e a diversidade de experiências a partir do encontro com a heterogeneidade, embaraçando os contornos que demarcam as fronteiras entre a dita normalidade e a anormalidade.
De modo análogo, Frayze-Pereira (1997) refere-se a uma “poética” do AT, compreendendo a cidade como “obra de arte coletiva”, espaço esculpido de acordo com as exigências éticas e estéticas de seus habitantes. É no contexto da rua – com toda a sua multiplicidade e diferença – que o acompanhante cria um espaço clínico junto ao sujeito o qual acompanha.
No âmbito deste cenário, a “errância” é descrita pelo autor como condição primeira para que o trabalho do AT se desenvolva, uma vez que ocupar os espaços públicos implica explorar os usos não programados e inventar uma “psicogeografia urbana e afetiva” na qual o espaço e a subjetividade estão inextricavelmente interligados.
No território aberto da cidade, ambos – acompanhante e acompanhado – podem juntos ressignificar a experiência de estar no mundo, inventando novas formas de ação e apropriação do espaço-tempo na polis urbana.
É dentro desta mesma perspectiva compreensiva acerca do AT, que Gonçalves e Barros (2013) reconhecem esta prática como um importante agente propulsor da desinstitucionalização da lógica manicomial.
Neste sentido, as autoras defendem este dispositivo como vetor de análise crítica a respeito da própria clínica, uma vez que retorna aos pressupostos centrados em torno do subjetivismo interiorista, propondo uma inflexão capaz de afirmar um plano clínico comum, exercido no domínio público:
Não podemos restringir a deslocalização da clínica a uma diferença espacial. Mais do que deslocalizar o espaço da clínica, há a invenção de uma nova atitude clínica. Não queremos, portanto, evidenciar somente uma alteração de lugar no sentido espacial, topológico (topos), mas sim a convocação de uma nova atitude (ethos). O trabalho na cidade desperta outra sensibilidade clínica, principalmente em função de acontecimentos que não são produzidos nem pelo analista nem pelo analisando, mas que irrompem da/na cidade e que têm a força de reconfigurar o contexto de análise. […] A clínica deixa de estar referida a um lugar e a uma pessoa. Tais deslocalização e despessoalização significam a afirmação de um plano comum da clínica, de um domínio público resultante de uma operação em rede (GONÇALVES; BARROS, 2013, p. 113).
E é justo em referência a esta função de publicização da clínica, exercida pelo AT, que Rolnik (1997) situa este ofício como uma prática de intervenção, na medida em que o termo “intervenção” aponta para a ideia de experimentação, muito cara a este dispositivo clínico.
Experimentar deve ser compreendido aqui como uma tarefa ético-estética de tecer, junto ao sujeito acompanhado – e em meio ao entorno que circunda o encontro -, redes de sentidos a partir de táticas inexistentes a priori.
Isso implica enxergar a natureza experimental dos atos e dos processos, convocando à necessária abdicação dos moldes teóricos preexistentes, a fim de revestir de novidade e plasticidade a matéria de que é feita esta clínica.
Somente deste modo, o acompanhante terapêutico afirma a sua potência interventiva junto ao outro e à cidade, mantendo-se suficientemente sensível à singularidade das demandas e anseios daqueles os quais acompanha, ensejando as condições de possibilidade para a emergência de novos territórios subjetivos.
Rolnik (1997) propõe, com isso, a criação permanente de novas cartografias teórico-pragmáticas, a fim de que em sua experimentação a clínica do AT não deixe de ser em momento algum nômade. Trabalhar com a ideia de “clínica nômade” implica situar a terapêutica dos acompanhamentos desde os afetos que surgem aos borbotões no cenário dinâmico, mutante e imprevisível da cidade. Referindo-se a um hipotético acompanhante terapêutico, a autora afirma:
Nosso hipotético A.T. lembra como no começo ele se desanimava a cada vez que lhe dava um branco em seu trabalho, pois supunha que isto era um sinal de incompetência ou de falta de formação. Agora pensa que essa condição de falta de parâmetros que marcou o início de seu trabalho foi muito interessante: partir de uma espécie de tela branca, vazia de imagens, é o que o impeliu a explorar o fora para dele extrair figuras, conduzido pelas vozes dos híbridos que foram se engendrando em sua prática experimental. Sem imagem alguma se antepondo ao seu olhar, ele teve de situar seus pacientes desde os afetos de seu encontro (ROLNIK, 1997, p. 92).
O trecho transcrito acima deixa entrever uma marca fundamental do AT, qual seja: é um dispositivo que exige dos acompanhantes que operem em uma determinada atmosfera de desprendimento, assumindo a posição de um não saber, para que assim o vínculo possa ser estabelecido sobre bases ainda indefinidas e imprevisíveis, aberto a ser performado pelo encontro em meio aos espaços públicos.
Dito de outro modo, existe na prática do AT um apelo dirigido ao acompanhante para que possa despir-se, em parte, dos saberes já adquiridos em sua formação clínica, para estar efetivamente disponível para o que surge no momento mesmo do encontro com o outro. Existe, em última instância, a exigência de habitar junto ao sujeito acompanhado uma zona de indeterminação em que há a suspensão dos “discursos competentes”. Chaui-Berlinck (2012, p. 160) nos orienta nesta reflexão:
Parece-nos que a indeterminação do AT, que, ontem, se erguia contra o saber psiquiátrico, pode ser, hoje, uma reação à força do discurso competente. O receio de compactuar com esse discurso e sua regra de exclusão e inferiorização do outro levam o AT para a indeterminação, como se ao possuir um conhecimento específico, ao ver-se como especialidade clínica, prática e/ou teórica, pudesse sucumbir ao discurso competente e ao privilégio dos especialistas.
Entendemos, a partir do diálogo entretecido junto aos autores referidos acima, que o que dá o tom híbrido ao dispositivo do AT é o fato de exigir, por parte dos profissionais, uma plasticidade em suas atuações, aceitando o desafio de ocupar uma posição “nômade” de permanente redimensionamento acerca da própria prática.
Devem, com isso, trabalhar para extrair do “fora” da cidade – com toda a diversidade que a compõe -, os elementos que performam uma clínica polifônica. Em suma, trata-se de reconhecer todos os aspectos que atravessam essa clínica extramuros, como agentes, o que exige que sejam contemplados como atores ativos na produção de diferenças no âmbito das subjetividades.
Não se trata, então, de enquadrar o sujeito em categorias nosológicas que busquem apreendê-lo a partir de uma suposta verdade subjetiva que o constitui, e sim de contemplá-lo no momento mesmo deste encontro com os espaços de sociabilidade, o que possibilita enxergá-lo precisamente no entrecruzamento das fronteiras que não cessam de nos constituir na interface com o mundo exterior.
A aposta, neste caso, reside na polifonia presente nos espaços públicos, por apresentarem a possibilidade de criação de novos modos de existência para aqueles que são acompanhados.
Afinal, dentre aquilo que vivenciamos no ambiente da polis urbana – em meio ao ruído dos automóveis, ao burburinho alheio, ao concreto dos edifícios -, não selecionamos aquilo que de algum modo nos afeta? Presenciamos, sentimos e dotamos de sentido as nossas experiências, contrapondo aos dados objetivos os percursos subjetivos que perfazem a nossa singularidade.
Trata-se, portanto, de acompanhar o outro em suas andanças como companheiro que se coloca ora à frente, ora ao lado, ou mesmo no seu encalço, inventando outras cidades e novas possibilidades de existir nelas.
O AT desponta, neste contexto, como uma clínica irremediavelmente implicada no cotidiano urbano, no qual o acompanhante atua como catalisador das diferenças que não cessam de se apresentar como possibilidades outras de ser e estar na vida.
Sendo assim, a clínica do acompanhamento pode embasar uma forma de estar com o outro no espaço público a qual concebe a cidade como o texto e o contexto nos quais uma série de sentidos é traçada a partir de uma apropriação do espaço que não o toma como dado, mas antes, como oportunidade de criação no qual habitá-lo significa também deixar-se por ele habitar.
Considerações finais
Conforme visto, a prática do AT ocorre fora do limite restrito das “quatro paredes”, seja dos consultórios médicos e/ou psicológicos, ou mesmo das grandes instituições psiquiátricas.
Inserido no âmbito da rede de serviços substitutivos à lógica asilar, este dispositivo clínico atua diretamente no campo da cultura, contemplando-a como categoria privilegiada de investimento e análise.
Desejar uma sociedade livre das formas de discriminação, exclusão e violência, implica a adoção efetiva das propostas presentes no Projeto de Reabilitação Psicossocial, que integra o movimento de Reforma psiquiátrica brasileira.
Para tanto, faz-se necessário uma ampliação das redes sociais de troca afetiva entre os sujeitos, expandindo, com isso, a lógica do cuidar para além do espaço intramuros. O AT está vinculado a esta proposta, na medida em que advoga um “valor de uso” para as cidades, operando na criação de “práticas territoriais” capazes de ampliar os vínculos afetivos, especialmente no caso de indivíduos que apresentam enorme sofrimento psíquico.
Como vimos, o encontro entre acompanhante e acompanhado ocorre em meios que são atravessados pela imprevisibilidade e porosidade inerentes ao ambiente público. Neste sentido, os espaços coletivos despontam como cenário privilegiado no qual a prática do AT se desenrola, o que aponta para a dimensão clínico-política desta modalidade de tratamento.
Cabe ao acompanhante avaliar as possibilidades de interação com o outro nos espaços públicos, visando situar as intervenções clínicas no interstício das necessidades com os anseios e desejos do sujeito, e ainda, em conjunto com as oportunidades de atuação oferecidas pelos recursos presentes no entorno que circunda o encontro.
A luta é, portanto, pela expansão dos limites da clínica, visando com isso, extrair possibilidades terapêuticas a partir do diálogo aberto aos mais diversos campos da existência, no espaço plural e cambiante da cidade.
Referências
- BASAGLIA, Franco. A instituição negada. Rio de Janeiro: Graal, 2001.
- CHAUI-BERLINCK, Luciana. Novos andarilhos do bem: caminhos do Acompanhamento Terapêutico. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
- DESCARTES, René. Meditações metafísicas. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978.
- FRAYZE-PEREIRA, João Augusto. Por uma poética do acompanhamento terapêutico. In: Equipe de Acompanhantes Terapêuticos do Instituto A CASA (Org.). Crise e cidade: acompanhamento terapêutico. São Paulo: EDUC, 1997. p. 19-35.
- GONÇALVES, Laura Lamas Martins; BARROS, Regina Duarte Benevides de. Função de publicização do acompanhamento terapêutico: a produção do comum na clínica. Revista Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v. 25, n. spe2, p. 108-116, 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822013000600014
» http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822013000600014 - PALOMBINI, Analice de Lima. Vertigens de uma psicanálise a céu aberto: a cidade; contribuições do acompanhamento terapêutico à clínica na reforma psiquiátrica. 2007. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
- PITTA, Ana. O que é Reabilitação Psicossocial no Brasil, hoje? In: PITTA, Ana et al. (Org.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 19-26.
- REIS NETO, Raymundo de Oliveira. Acompanhamento Terapêutico: emergência e trajetória histórica de uma prática em Saúde Mental no Rio de Janeiro. 1995. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995.
- ROLNIK, Suely. Clínica nômade. In: Equipe de Acompanhantes Terapêuticos do Instituto A CASA (Org.). Crise e cidade: acompanhamento terapêutico. São Paulo: EDUC , 1997. p. 83-97.
- ROTELLI, Franco. Empresa Social: construindo sujeitos e direitos. In: AMARANTE, Paulo et al. (Org.). Ensaios: subjetividade, saúde mental, sociedade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. p. 301-306.
- SARACENO, Benedetto. Reabilitação Psicossocial: uma estratégia para a passagem do milênio. In: PITTA, Ana et al. (Org.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec , 1996. p. 13-18.
- SENNETT, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 1997.
- SERENO, Deborah. Acompanhamento terapêutico de pacientes psicóticos: uma clínica na cidade. 1996. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
- SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio et al. (Org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1973. p. 11-25.
- WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. In: VELHO, Otávio et al. (Org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: J. Zahar , 1973. p. 90-113.
Autores:
Danilo Marques Godinho – Doutor em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2017), com bolsa CAPES e VRAC (Vice Reitoria Acadêmica). Mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2011), com bolsa CAPES e VRAC (Vice Reitoria Acadêmica). Psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007), com bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (2005-2007). Bolsista de Treinamento e Capacitação Técnica da FAPERJ (2011-2013). Membro Associado da Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro (SPCRJ). Participa da Formação Básica de Psicanálise do GTEP (Instituto Sedes Sapientiae – São Paulo). Psicólogo Clínico (Psicanalista). Docente Efetivo (Assistente III) do curso de Psicologia do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) e Supervisor da Clínica Escola de Psicologia da UNIFIMES (Psicanálise). Integrante do GEP-NEPEM – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão Multidisciplinar da UNIFIMES e integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia, Neurociências e Educação (GEP – PNEdu) da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). Área de interesse: Psicologia Clínica, Psicanálise e Saúde Mental. https://orcid.org/0000-0002-2444-2634 e http://lattes.cnpq.br/0220068248700603
Carlos Augusto Peixoto Junior – Concluiu o Mestrado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1990 e o Doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1997. Atualmente é Professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de Psicologia e Psicanálise com ênfase na interação da teoria com a clínica do ponto de vista relacional-objetal. https://orcid.org/0000-0002-8631-7409 e http://lattes.cnpq.br/7337224839208493
Descubra mais sobre Site AT:
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.




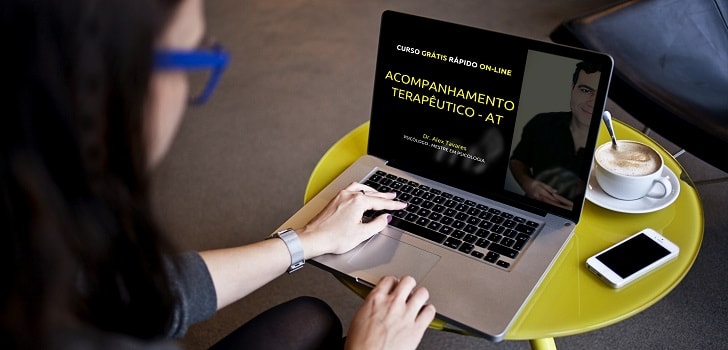










Comente aqui.